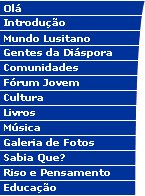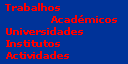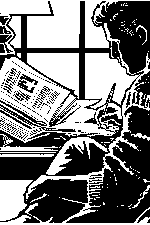 |
Permitam-me colocar desde já algumas cartas na mesa: toda
a minha formação e educação jornalística
aconteceu-me a partir de uma universidade norte-americana, e a
minha colaboração activa nos mais variados jornais
e outras publicações foi durante muitos anos feita
também a partir desse país (na Califórnia),
tendo sempre como receptor o público leitor de língua
portuguesa, simultaneamente em Portugal e na diáspora.
Primeiro como colaborador de órgãos de informação
da nossa imigração na Califórnia e na costa
atlântica, e depois (a partir de fins da década de
70) como correspondente do Diário de Notícias, de
Lisboa, a convite de Mário Mesquita. A minha colaboração
nos jornais açorianos do arquipélago viria um pouco
mais tarde, mas tornar-se-ia, neste últimos dez anos e
como resultado da minha residência em São Miguel,
intensa e ocupando lugar quase exclusivamente entre a crítica
literária e mais generalizadamente cultural e política
da Região Autónoma nessa mesma área. Também
durante os últimos cinco anos, dirigi e coordenei o agora
extinto Suplemento Açoriano de Cultura do Correio dos Açores.
Desta experiência falarei mais pormenorizadamente um pouco
adiante, pois, para mim, cultura e cidadania, ou melhor, a cultura
como acto eminentemente cívico, foi sempre o fio condutor
não só do que escrevo e do jornalismo que tenho
praticado, como espécie de plataforma ética na escolha
e projecção que eu dava aos trabalhos enviados para
o mesmo suplemento. Se insisto aqui na minha própria intervenção
jornalística adentro da realidade sócio-cultural
que são efectivamente os Açores é porque
o meu papel de observador e comentador da Imprensa açoriana
neste colóquio naturalmente não pode nunca estar
desligado desse meu próprio percurso. Desde cedo que tenho
reflectido e escrito sobre o acto jornalístico, o meu e
o dos outros, o da grande Imprensa norte-americana, e particularmente
o acto de escrever dos Açores e da diáspora.
É pois na América do Norte que tive os primeiros
contactos, como participante activo ou como consumidor, com toda
a Imprensa. É dessa mesma Imprensa, irremediavelmente,
que retive para sempre os padrões profissionais e éticos
no que respeita ao jornalismo (ou "infoentretenimento")
como discurso público e cívico, vinculado tanto
numa qualquer reportagem como num comentário, num artigo
de opinião, ou mais expansivamente num ensaio analítico.
Quando saí dos Estados Unidos para me fixar nos Açores,
escrevi a um amigo (e mais tarde num ensaio sobre o jornalismo
comunitário da Califórnia) que um dos meus grandes
alívios era o de não ter de ler mais o dinossáurico
Los Angeles Times: não me fariam falta a sua voz imperial
nem os seus infindáveis conteúdos em diversos cadernos
diários e dirigidos aos leitores conforme a zona onde vivessem.
Após dez anos de Açores e dez anos de leitura predominantemente
de jornais portugueses, regionais e nacionais, já engoli
vezes sem fim essas minhas palavras de suposta despedida. Hoje,
diariamente através da internet, consulto avidamente não
só o Los Angeles Times, como muitos outros jornais norte-americanos.
Nem falo de "qualidade", porque esse é sempre
um discutível juízo de valor, e muitos dos nossos
jornais contam aqui e ali com alguns dos melhores comentadores
e jornalistas da Europa. Não falo de televisão porque
não vejo por cá nada nem pior nem melhor do que
via e ouvia no meu outro país. Mas falo, repito, de uma
ética que creio nos faltar por cá: a absoluta e
perpétua responsabilidade do indivíduo perante a
comunidade. Um dia em Bruxelas perguntei a um grande poeta português
aqui do Continente por que era que ele achava os belgas francófonos
tão parecidos connosco, desde a confusão nas ruas
a atitudes, digamos, existenciais. A sua resposta foi rápida
e lapidar: são de civilização católica
como nós, e portanto sabem que podem "pecar"
toda a semana, que serão absolvidos ao domingo, podendo
assim recomeçar tudo de novo no dia seguinte. Na graça
das suas palavras residiam e residem certas verdades. A reinvenção
diária de cada um de nós, a de tirar e a de pôr
as máscaras quotidianas que nos permitem o equilíbrio
entre o cidadão individual e a sua comunidade, terá
muito a ver com esta noção de que, no mundo anglo-saxónico
e protestante, não há salvação para
além das próprias e solitárias consciências.
No protocolo entre o jornalista e os seus leitores, entre o apresentador
de televisão e os seus telespectadores, entre o homem e
mulher da rádio e os seus ouvintes, não há
entidade de mediação ética em primeiro lugar,
mas sim a formação e consciencialização
de quem detém essa voz pública e o poder de agendar
toda e qualquer discussão colectiva. A facilidade com que,
nessas mesmas sociedades, um profissional perde a sua credibilidade
e lugar faz com que cada palavra, cada ideia, ou até mesmo
uma mera constatação, seja afinadamente medida e
pesada. Um manual idealista de jornalismo que eu então
consultava constantemente enquanto ainda na minha juventude mantinha
uma coluna num jornal luso-americano era implacável: tens
de levar uma vida exemplar se queres ter a autoridade moral e
intelectual de opinar e mesmo de castigar o teu público
leitor ou a tua comunidade. Ninguém espera isso do cidadão-jornalista,
mas a delimitação de terreno e o apelo à
humildade serviam e suponho que ainda servem aos melhores e aos
mais sérios de entre nós. É certo que nos
Estados Unidos os jornais mais vendidos e as televisões
mais vistas são as que tudo nivelam por baixo. O escandaloso
National Enquirer ainda hoje procura e anuncia amantes de Clinton,
rejubila com um possível divórcio do ex-presidente,
e gasta milhões em tribunais em defesa das suas mentiras
e os mais desvairados exageros sobre outras figuras públicas
e celebridades. Mas é também nos Estados onde se
publicam o New York Times, o Washington Post e, claro está,
o meu saudoso Los Angeles Times, ou seja, talvez os melhores jornais
do mundo, lidos diariamente pelos líderes mundiais da nossa
era. O equilíbrio entre o indivíduo e a sua comunidade
é sustentado também pelo equilíbrio entre
o melhor e o pior das vozes públicas daquela e de outras
sociedades irmãs, como o Canadá e a Grã-Bretanha.
Deixo a outros a opinião sobre o que se passa no nosso
país; estamos ainda por saber se a nossa tradição
jornalística e intelectual poderá sustentar ou não
a convivência entre a qualidade dos nossos jornais de referência
e o pior que em letra impressa possamos imaginar, e que anda por
aí aos gritos histéricos em certas páginas
e em certos écrans.
Nos Açores, e apesar da nossa longa tradição
jornalística, tudo isto está ainda num estado de
formação, tudo é muito mais precário,
e, devido à nossa pequenez territorial e de população,
tudo tem mais impacto e dramatismo imediato. Perguntou-me um dia
um colega a longa distância como é que se poderia
fazer crítica literária num meio em que garantidamente
o crítico se encontraria na rua ou café como autor
visado. Disse-lhe que de duas maneiras: ou com toda a seriedade
e boa vontade, ou então com toda a falta de vergonha ou
sentido ético da vida. Quando Nemésio dizia que
a geografia valia tanto como a história para nós,
creio que se referia também ao cerco físico e de
todo limitador da nossa convivência. A liberdade de expressão
nos Açores poderá não estar condicionada
pelo poder político e económico, mas certamente
está pelo cerco geografia. Deverá ser isso a vida
em ilha: a consciência de que o outro fica ali mesmo ao
nosso lado, e a sua cosmovisão poderá ou não
coincidir com a nossa. Só que nada nos Açores é
abstracto, tudo toma uma forma concreta e intensamente vivida.
O elogio ou a ofensa nunca são meramente intelectuais,
são sempre intensamente pessoais e interiorizados. Muitos,
numa grande cidade como Lisboa, poderão ansiar por este
significado profundo da sua actividade jornalística ou
artística, pois tudo tem um impacto imediato para o bem
e para o mal. Seja como for, em ilhas como os Açores, o
jornalismo nunca poderá ter a pretensão de que as
audiências e públicos ficam longe, de que tudo se
passa a um vasto nível ora de indiferença ora de
debate aberto e pacífico. Num meio como este, o que ainda
está por acontecer, a formação da maioria
dos jornalistas e de outros com voz pública terá
de ser ainda mais profunda e intensa, na defesa contra a ofensa
ética e especialmente contra a constante tentativa de os
poderes influenciarem e moldarem essas vozes, uma vez mais, públicas,
que não exclusivamente partidárias, facciosas ou
aprisionadas aos medos de ilha, à necessidade de salvação
económica, acima de tudo, pessoal e familiar. Num texto
intitulado "Jornalismo e Juventude", que publiquei pela
ocasião do lançamento de um periódico açoriano
há alguns anos e que se dirigia directamente aos seus responsáveis,
escrevi o seguinte:
Quem entra no jornalismo açoriano para ganhar dinheiro,
ou é um génio ou então acaba de chegar de
Marte; quem entra no jornalismo açoriano para se autopromover
[o que nos acontece com frequência, diga-se de passagem,
por parte daqueles que visam a sua entrada nos aparelhos partidários
ou estatais] politicamente ou para publicar as suas raivas e ressentimentos
pessoais - também vai descobrir rapidamente que nada de
bom o espera. É que as comunidades vivem estas saudáveis
contradições - podem alguns dia a dia praticar os
seus vícios e desvios éticos de todo o tipo, mas
não gostam de ver o seu próprio reflexo. Um jornal
ou revista [ou uma televisão ou uma rádio] por mais
que se o negue, é todavia um outro espelho da nossa comunidade,
logo ninguém está inocente de conivências
directas ou indirectas. Por detrás de cada charlatão
- nos Açores como em toda a parte - está um ser
que, pela memória de gente e tempos mais decentes, pela
memória de ensinamentos morais e cívicos, pela táctica
pura de sobrevivência entre gente séria, pensa-se
virtuoso, no sentido bíblico da palavra, pensa-se um grande
cidadão que pratica os seus desvios cívicos ou utiliza
outros seres humanos como meros instrumentos das suas obscuras
ambições, mas tudo pretende fazer a bem da comunidade
(…) Escrever é obedecer a um chamamento interior,
a uma forte necessidade de comungar com os outros toda a tradição
intelectual que é nossa e de que uma sociedade democrática
e aberta, à Karl Popper, não prescinde. Os agentes
políticos totalitários em qualquer parte dependem
da ignorância dos cidadãos, do reino da estupidez
e do obscurantismo generalizado. Não dêem tréguas
a esta nossa condição, não tenham medo deste
trio diabólico.
Por outro lado, nos Açores está pela primeira vez
na nossa história a tentativa de se criar uma sociedade
civil, nos limites de uma muito reduzida população
dispersa por nove ilhas, vinda de uma tradição corporativista
e cuja escolaridade, no contexto europeu desenvolvido, só
agora começa a atingir os anos e os níveis minimamente
essenciais. Passar de um discurso comunitário, por vezes
primitivamente comunitário, para um discurso alargadamente
societal não é nem está a ser fácil.
Ultrapassar a fulanização vai nos ser ainda muito
difícil, a não ser quando o acto jornalístico
partir de açorianos com referenciais no exterior do arquipélago,
aqueles que cá fora não vivem a fatalidade matemática
de terem de olhar olhos nos olhos os que dia a dia ou semana a
semana são os seus alvos directos ou indirectos.
Por mais antiga que seja a sociedade açoriana, tudo chegou
tardiamente ao arquipélago. Foi só há pouquíssimos
anos que se debateu, e por vezes emotivamente, se os canais de
televisão nacionais deveriam ou não ser transmitidos
directamente para toda a população, não fossem
estes secundarizar o canal regional, e logo, por acréscimo,
minimizar as vozes públicas açorianas. Enquanto
isto, entrava sem grandes algazarras a TV cabo (seguindo a venda
de parabólicas, que então já estavam abundantemente
presentes na Região), pondo fim ao debate entre os que
então governavam as ilhas e os que entendiam que o país
poderia estar repartido pela sua geografia mas não pela
sua Imprensa ou outras instituições nacionais. Creio
ainda ser cedo de mais para avaliarmos o impacto que esta nova
realidade tem entre a população que já dela
desfruta, mas poderemos aventurar algumas hipóteses. Com
o ensino superior nos Açores e o consequente ensino da
língua inglesa a esse nível, difícil será
evitar que uma percentagem substancial da classe culta açoriana
não esteja ligada diariamente às ofertas televisivas
americanas e britânicas, particularmente numas ilhas cuja
história se divide entre as imagens aprendidas de Portugal
e as miragens sonhadas das Américas. Salman Rushdie escreveu
num dos seus romances que, num mundo globalizado, a distância
entre duas aldeias vizinhas na Índia era muito mais longa
do que a distância entre Bombaim e Londres. Digo com frequência
aos meus alunos da disciplina de língua inglesa que eles
muito provavelmente já se sentiriam menos estranhos em
Boston do que nas suas freguesias açorianas ou nas suas
aldeias continentais. Já somos todos emigrantes, sem necessitar
de abandonar o nosso espaço-pátrio. O multiculturalismo
acontece todos os dias, é vivido por toda a gente mesmo
numa sociedade relativamente homogénea (e até isolada)
como a açoriana. Não há mais experiências
monoculturais na aldeia global, e não será por mero
acidente ou moda literária que os escritores que mais atenção
despertam globalmente são os que vivem e transfiguram a
experiência transcontinental ou, uma vez mais, multicultural.
Depois temos a internet, mesmo que por enquanto esteja reduzida
a uma elite cultural e profissional. Há uns tempos, um
amigo da Califórnia alertava-me através do correio
electrónico para um determinado artigo que acabara de ser
publicado no New York Times. Agradeci-lhe, mas tive de lhe dizer
que já o tinha lido ao chegar ao meu gabinete, provavelmente
antes de ele, devido ao fuso horário, o ter lido na costa
do Pacífico. Estávamos pois em condições
de encetar de imediato a nossa discussão em volta do tema
em causa. Voltando aqui à televisão regional, adiciono
apenas que tem sido objecto das mais duras críticas e de
emotivas defesas, dando lugar saudavelmente a alguns encontros
de reflexão acerca da sua própria identidade e do
lugar que entre nós deverá um dia ocupar. Não
quero falar neste momento da sua qualidade, mas direi tão-só
que, repetindo o que disse anteriormente acerca das outras televisões
nacionais e internacionais, não é pior nem melhor
do que qualquer uma delas. A RTP/A tende a ser avaliada internamente
pelos conteúdos e perspectivas do seu telejornal. Creio
que a sua eventual despoliticização irá acontecendo
conforme o nível de desenvolvimento e consciencialização
não só dos seus responsáveis, desde a direcção
aos repórteres como, digo aqui enfaticamente, a de toda
a população do arquipélago. Bem sei que é
um cliché, mas é também a minha opinião
que cada terra tem exactamente o que merece ou o que pede.
Um pouco antes de tudo isto, a rádio de estado, a RDP/A,
já se tinha habituado às rádios locais, agora
creio que em concorrência directa, mesmo que os recursos
de uns e outros sejam desiguais em termos absolutos. Algumas,
ligadas directamente a outras rádios nacionais para determinados
programas e noticiários, oferecem novas perspectivas e
uma multiplicidade de opiniões. No entanto, são
a televisão e a rádio do estado que mais têm
unificado política e culturalmente o nosso arquipélago,
imagens e palavras dando-nos o sentido comum da nossa história
e condição existencial ante a restante comunidade
nacional e internacional. Num mercado tão reduzido e precário
como o nosso, por enquanto só com o apoio do Estado será
possível oferecer este ponto comum entre todos os açorianos,
dentro e fora do arquipélago. Durante os três anos
que tive o privilégio de representar os Açores no
Conselho de Opinião da RDP, sempre fiz lembrar esses factos
aos seus responsáveis aqui no Continente, não se
podendo equacionar no caso açoriano os gastos com números
das audiências, pois a essencialidade da unidade nacional
não podia ser contabilizada como noutras geografias.
Os jornais nas mais populosas ilhas açorianas encetaram
também por volta do início da década de 90
a sua modernização técnica e alargamento
do seu discurso e temáticas em todas as áreas de
interesse público, e por vezes, diga-se com toda a brevidade,
de interesses privados. Alvin Toffler dizia na década de
70, olhando para o que então acontecia à sua volta
nos Estados Unidos, que o movimento era agora ao contrário:
dos grandes jornais para os que retratavam e se dirigiam às
pequenas comunidades numa sociedade multicultural, essa confederação
feita das mais variadas e distantes etnias. Mencionava com certo
destaque a imprensa imigrante e luso-americana de cidades como
New Bedford. Nessa altura, eu já escrevia em jornais de
língua portuguesa na Califórnia; o elogio à
pequenez foi-me então particularmente gratificante. Os
grandes jornais não desapareceram (felizmente), mas tiveram
de se refazer de modos vários, desde o grafismo imposto
pelas novas tecnologias e estéticas aos seus conteúdos,
que se dividiram entre as questões nacionais e internacionais
até aos infindáveis estilos de vida e culturas das
comunidades locais que compõem as grandes áreas
metropolitanas. Ninguém nos Açores vai deixar de
necessitar dos seus jornais, mas melhor seria que as publicações
nacionais tivessem mais circulação e não
se restringissem quase só às elites culturais e
políticas citadinas de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo
e Horta. Um exemplo: sem saber quantas assinaturas terá
um JL, sei que na Livraria SolMar, talvez o mais dinâmico
espaço privado de cultura nos Açores, não
se vende muito mais do que cinco exemplares, três ou quatro
Diário de Notícias, nos dias que é vendido,
ficando o Expresso entre os 40/45 exemplares ao fim de semana.
Na precariedade profissional e ética da Imprensa regional,
o mínimo desvio ou desentendimento dará lugar ao
quase silenciamento de qualquer voz. Recordemos que, apesar de
tentativas de certos jornais se estenderem a todo o arquipélago,
ou a uma ou outra ilha em particular que não a sua, a verdade
é que cada um deles está limitado, quanto à
sua esfera de real influência, ao seu próprio meio
- por razões históricas de divisionismos de toda
a ordem, e ainda mais por interesses culturalmente específicos
de cada ilha. Será em vão que se procura um jornal,
por exemplo, da ilha Terceira, na maioria, se não em todos,
os postos de venda de São Miguel, e vice-versa.
A longa tradição da Imprensa escrita nos Açores
(com a tardia introdução de outros meios de comunicação
nas ilhas) dá-lhe naturalmente um estatuto privilegiado
no palco da vida pública e cívica do arquipélago.
As gerações açorianas intelectualmente mais
activas começaram a sua caminhada antes do 25 de Abril,
e continuam vinculadas a um discurso público e a uma retórica
que só nos jornais encontram o espaço adequado e
historicamente legitimado. Por seu turno, só os jornais
nos Açores (como em toda a parte, supõe-se) têm
tido a capacidade e a memória histórica de manter
vivo o debate e de constantemente enriquecer os nossos arquivos
intelectuais. O caso do nosso suplementarismo literário
e cultural é o exemplo vivo (e talvez inigualável
em todo o país) do que acabo de dizer. Escrevi um dia a
propósito de tudo isto que os nossos suplementos (os nossos
jornais) foram também durante muito tempo outro tipo de
universidade. Falei do isolamento que então era quase absoluto
e da nossa (também histórica) dificuldade em penetrar
e fazer parte do imaginário continental, tornando os nossos
jornais num espaço comum de todos quantos iam vivendo e
escrevendo os Açores ao longo dos tempos, até à
abertura da sociedade portuguesa em 1974. Era nos jornais que
apesar de tudo se agitavam as águas, e era nos jornais
que os açorianos no exterior podiam comunicar sobre o que
lá for a se passava, oferecendo de imediato um referencial
mais vasto e esclarecedor do nosso lugar no esquema das coisas.
Uma das experiências intelectuais mais gratificantes da
minha vida foi a coordenação do Suplemento Açoriano
de Cultura, já aqui mencionado. Publicado durante cinco
anos, após as primeiras semanas passou a doze páginas
de conteúdo, e sem qualquer publicidade. O único
problema que tive foi seleccionar a colaboração
que chegava um pouco de toda a parte onde os Açores são
vividos, estudados e lembrados. Juntou as comunidades intelectuais
independentes e os críticos e estudiosos universitários
de vários continentes e arquipélagos. Falo neste
exemplo daquilo que entre nós se tem feito porque ilustra
também a outra face do jornalismo nos Açores, na
qual cultura e cidadania estiveram sempre do mesmo lado. O Correio
dos Açores, não só não exigia publicidade,
como autorizava o envio gratuito do suplemento a indivíduos
e instituições que se dedicavam, (e se dedicam)
ao estudo do arquipélago, tendo essa lista especial atingido
quase trezentos nomes, cujos endereços iam desde Santa
Catarina no Brasil à Roménia (donde também
nos chegava colaboração). Ninguém aqui falava
em dinheiro: o jornal entendia o projecto quase como uma obrigação
intelectual imposta pela tradição da terra em que
está inserido.
Nos Açores, pois, o jornalismo, nas suas variadas facetas,
terá por enquanto de se defrontar com estas duas realidades:
a tentação do amesquinhamento da vida pública
e privada dos cidadãos e uma forte tradição
de cultura e cidadania. É claro que nada disto é
novo entre nós; pertencemos a uma cultura que sempre escolheu
a sátira e o mal dizer sobre o riso saudável do
humor. Por outro lado, não sei por quanto tempo mais os
açorianos serão senhores do seu destino, pois a
globalização tem esses outros custos, como a entrada
natural de forças nacionais e internacionais poderosas,
mas mais ou menos alheias à história regional e
cultura de sobrevivência e diálogo com o mundo. O
preço da modernização ninguém poupará,
mas as vantagens são e serão muitas. Se um dia os
Açores conseguirem construir uma economia regional que
sustente toda a sua população activa, qualquer reajustamento
cultural, é de crer, será justificado. A presente
dinâmica cultural é de sincretismo e convivências,
dando e recebendo influências das próximas e distantes
geografias culturais. Portugal é um país de emigração,
com um número significativo da sua população
nas Américas e na Europa. As segundas e demais gerações,
talvez pela primeira vez na nossa história, procuram activamente
as suas raízes, a outra sua identidade que os grandes meios
onde nasceram e vivem não lhes proporcionam. A memória
colectiva que lhes foi transmitida de modos vários requer
um ponto concreto de referência. Reparemos, por exemplo,
nos escritores e poetas luso-americanos, como Katherine Vaz, já
publicada no nosso país, e Frank X. Gaspar, que começa
já a ser estudado e comentado nos meios universitários.
Nas suas obras fazem chamamentos às mais diversas figuras
da nossa tradição literária, e a toda a mítica
e história lusitanas. O mesmo já aconteceu com a
luso-francesa Brigitte Pauline-Neto, quando num dos seus romances,
A Melancolia do Geógrafo, nos oferece uma visão
do Portugal contemporâneo bem diferente dos que não
têm outros referenciais íntimos no exterior.
A presente dinâmica cultural nos Açores - jornalismo
e cidadania só poderão ser entendidos nesse contexto
total - envolve cada vez mais essas forças anímicas
que a nossa história criou. O nosso discurso cultural centra-se
e sobretudo descentra-se activamente, permitindo uma osmose de
alargamento aprofundado, que se fará sentir para além
de todas e qualquer vontade ou tentação de isolamento.
Recentemente, um colóquio na Universidade de Yale sobre
os primeiros cem anos de literatura e cultura luso-americanas
envolveu num vivo debate gente proveniente do vasto mundo lusófono
e alguns anglo-americanos, em que os açorianos e seus descendentes
na América, na companhia de nomes como Jorge de Sena e
José Rodrigues Miguéis, foram o centro de todas
as atenções. Pertencemos agora a um outro país
da imaginação, necessariamente desterritorializado,
feito universal não pela retórica literária,
mas sim pelo reconhecimento legitimador de que as fronteiras do
estado-nação estão a desfazer-se perante
os novos factos político-culturais. Algo de novo está
de facto a acontecer nos Açores, como em toda a parte.
Poucos dias depois do encontro de Yale, o simpósio Filamentos
da Herança Atlântica na Califórnia encerrava
o seu primeiro ciclo com a décima primeira edição,
para renascer brevemente sob a direcção de um Institute
for Azorean-American Studies, que estará ligado a uma prestigiada
universidade californiana. Uma vez mais, entende-se que já
não é possível debater os Açores sem
esse enquadramento internacional, sem se falar de nós nas
ricas linguagens pertencentes a todos os que reclamam o arquipélago
como viveiro de nascença e destino, sem integrarmos no
nosso imaginário e na nossa visão do futuro as gerações
que o multiculturalismo das sociedades ocidentais agora nos devolvem.
Por outras palavras, jornalismo e cidadania nos Açores
em pouco se distinguem (para além da escala em que as coisas
naturalmente são vividas) do que se vai passando noutras
e mais vastas latitudes. Vem aí uma outra geração,
livre dos complexos e raivas que a nossa sempre transportou consigo,
esta que foi a geração do limbo histórico
e político, num país simultaneamente medieval e
moderno. As suas geografias já são outras, muito
mais vastas na realidade e na imaginação, e creio
que muito mais criativas. t
Nota: ensaio extraído do novo livro de
Vamberto Freitas, Jornalismo e Cidadania: Dos Açores à
Califórnia, a ser publicado brevemente pelas Edições
Salamandra, Lisboa, 2002.
|